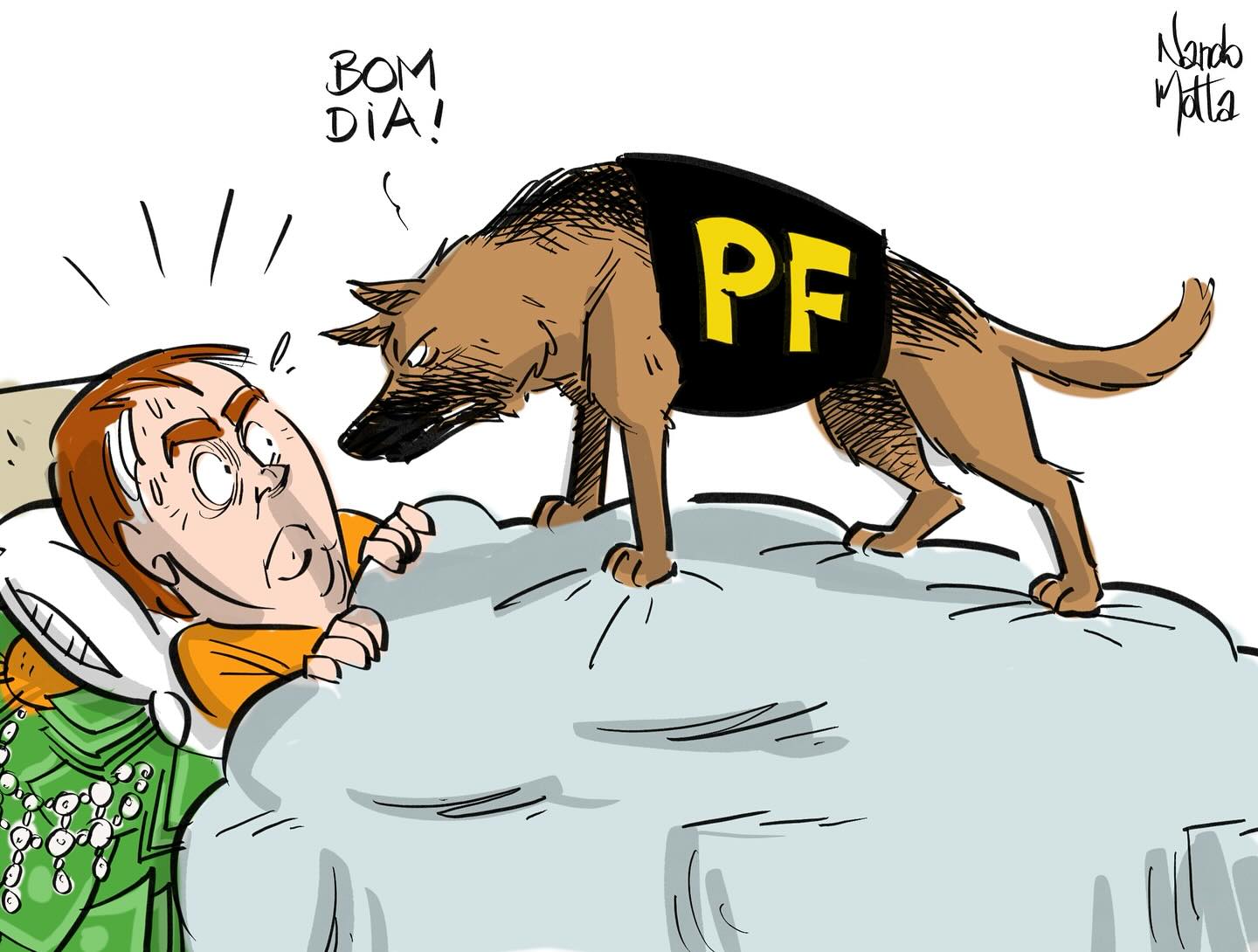O eurasianismo junta vermelhos e brancos em torno de valores tradicionalistas, nacionalistas e de ortodoxia religiosa e supera a tradicional oposição entre as correntes ocidentalizadoras e eslavófilas.
Por Patrícia Fernandes
O livro de Bruno Maçães publicado em 2018, O Despertar da Eurásia: em busca da nova ordem mundial, permite-nos compreender melhor o projeto eurasianista russo. Desenvolvendo o argumento que já tinha apresentado em artigo de 2015 para o Financial Times, intitulado “We are all Eurasian now”, Maçães apresenta uma proposta ousada: notando a deslocação do poder económico e político para a Ásia, defende que os europeus devem adotar uma política eurasiática como estratégia geopolítica “para um mundo em que a fronteira entre a Europa e a Ásia viria a desaparecer”.
O termo Eurásia terá sido usado pela primeira vez pelo geólogo Eduard Suess, em 1885, e é de utilização muito mais comum no contexto asiático do que no contexto europeu. Como refere Maçães, pode remeter para duas dimensões distintas: Eurásia como supercontinente, compreendendo todo o território europeu e asiático pela consideração de que não há fronteiras geográficas, culturais ou identitárias que permitam traçar a divisão habitual entre os dois espaços; e Eurásia como terceiro continente, compreendendo essencialmente o território que corresponderia ao antigo império soviético.
O trabalho de Maçães remete para o primeiro daqueles termos, articulando o seu argumento a partir de uma espécie de diário de viagens, na tentativa de nos convencer das vantagens dos velhos estados europeus se abrirem ao Oriente e optarem por modelos de maior união política e económica. Para Maçães, tornar-nos-emos, a breve trecho, incapazes de competir com as grandes potências asiáticas que se têm vindo a afirmar e a única forma de escaparmos à obsolescência económica, política e cultural é assumirmos uma identidade eurasiática, que nos aproximaria do continente-irmão.
Embora apresentado de forma sedutora, o argumento de Maçães contém duas grandes fragilidades. A primeira delas reside na confusão entre a dimensão descritiva e a dimensão normativa: o texto descreve de que modo o poder económico e comercial tem transitado para o contexto asiático, nomeadamente para a China, pelo que as oportunidades de crescimento económico e comercial passaram para a geografia asiática; mas dessa descrição não resulta que a Europa tenha uma identidade eurasiática ou que a Europa devaassumir uma identidade eurasiática. Na verdade, conforme vamos avançando no texto, mais difícil nos parece aceitar aquela premissa ou este argumento.
Ainda assim, a leitura do livro é muito relevante para o momento atual, na medida em que compreender a invasão russa da Ucrânia implica compreender um leque bastante amplo de circunstâncias históricas, políticas e económicas que são bem abordadas no texto. O seu principal contributo parece-nos ser o de clarificar o seguinte aspeto: abrirmo-nos ao Oriente é abrirmo-nos a um mundo em que o conflito assume primazia. De facto, as relações entre os agentes principais do mundo eurasiático – China, Rússia e Turquia – e as suas relações com os restantes países que preenchem o relato do autor – Ucrânia, Azerbaijão, Moldávia, Cazaquistão, Índia, Irão – são relações de conflitualidade. E a nova ordem internacional, a ser eurasiática, será então marcada pela multipolaridade e pela conflitualidade, numa lógica de oposição que se afirma contra os valores ocidentais.
É precisamente este o espírito do eurasianismo que tem amadurecido na Rússia enquanto doutrina filosófica e que terá sido criada por Nikolai Trubetzkoy, na segunda década do século XX, e retomada por Lev Gumilev, na segunda metade do século. Hoje é sobretudo defendida por Alexandr Dugin, mas está fortemente difundida nas elites intelectuais próximas do Kremlin. Importa notar que, quando passamos para este contexto, o termo Eurásia adota o segundo dos dois sentidos que referimos anteriormente: remete aqui para uma espécie de terceiro continente, em cujo centro está a Rússia, que deverá ampliar o seu domínio e influência aos países fronteiriços por forma a afirmar um bloco político e económico capaz de rivalizar com os dois poderes que a ameaçam pelo ocidente e pelo oriente. Neste sentido, a Rússia simbolizaria uma terceira civilização, que se afirma com uma singularidade ou espiritualidade própria, como Sergueï Lavrov costuma afirmar.
Já em 1999, a Foreign Affairs chamava a atenção para o sonho eurasiático como projeto de unificação russo: o eurasianismo junta vermelhos e brancos em torno de valores tradicionalistas, nacionalistas e de ortodoxia religiosa e supera a tradicional oposição entre as correntes ocidentalizadoras e eslavófilas – em torno de uma narrativa iliberal, contra o Ocidente e virada para Leste. Na verdade, “[e]sta fixação na relação da Rússia com o Leste é típica dos eurasianistas. Embora sejam imperialistas, eles não são nacionalistas tradicionais; de facto, a maioria dos eurasianistas tenta distinguir-se dos nacionalistas russos ao defender alianças com os vizinhos asiáticos da Rússia, especialmente os islâmicos”.
Terá sido este o espírito que conduziu à criação da União Económica Eurasiática pela Federação da Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão em 29 de maio de 2014, a que se juntaram Arménia e Quirguistão mais tarde. Começando com uma integração económica, o objetivo é afirmar um projeto político que se imponha ao Ocidente, colocando os países europeus sob sua influência. Como dizia Dugin em 2014, a propósito da primeira invasão à Ucrânia: “Se vencermos, começaremos a expansão de uma ideologia libertadora (da influência americana) na Europa. É o objetivo do Eurasianismo total – uma Europa de Lisboa a Vladivostoque” (numa expressão utilizada por Putin em 2010). São estes os princípios político-filosóficos que subjazem à atuação da Rússia.
Regressemos a Bruno Maçães. A segunda fragilidade do seu argumento parece-nos residir na perspetiva argumentativa adotada: embora reconheça as diferenças políticas, culturais e identitárias que poderão dificultar o processo, Maçães advoga a perspetiva economicista de que os interesses económicos serão suficientes para que possamos avançar para uma política eurasiática. Contudo, essa perspetiva despreza o aspeto político central, que Maçães até reconhece, mas desvaloriza: “os políticos europeus tendem a apelar a regras e valores aos quais o poder político se deverá submeter, ao passo que na Rússia é muito mais comum e natural apelar, não a regras, mas a um poder capaz de estabelecê-las e impô-las”.
Ora, este pequeno detalhe elimina qualquer possibilidade de pensarmos numa política eurasiática: as diferenças políticas que distinguem a nossa identidade da identidade asiática são intransponíveis. A lógica do poder imperial (que caracteriza a Rússia, a China, o próprio Japão) não é compatível com o espírito democrático dos estados-nação europeus e bastarão três exemplos para separar os dois mundos: o modo como a China atuou para controlar a pandemia, o modo como o Cazaquistão lidou com os protestos da população no início deste ano, o modo como a Rússia invadiu a Ucrânia.
Por essa razão, quando Maçães pergunta “Quando foi a última vez que pensou em si próprio como eurasiático?”, a nossa resposta leva-nos de regresso aos Gregos. Diz-nos H. D. F. Kitto:
“[C]omparando-se com os países mais ricos e mais altamente civilizados do Oriente, eis o que os Gregos viam: governos palacianos, com um rei absoluto que governava, não como os primitivos monarcas gregos, de acordo com Témis, ou com uma lei vinda do céu, mas unicamente segundo a sua própria vontade; não responsável perante os deuses, porque ele próprio era um deus. Ora, um súbdito de tal senhor era um escravo. (…) O hábito oriental da obediência espantava os gregos, porque não era eleutheron [liberdade]; aos seus olhos, constituía uma afronta à dignidade humana.”
É por termos uma identidade que resulta desta tradição que não pensamos em nós como eurasiáticos e que assumimos o presente conflito com choque civilizacional.
*Professora da Universidade da Beira Interior
Observador (PT)

_and_near_abroad.png)